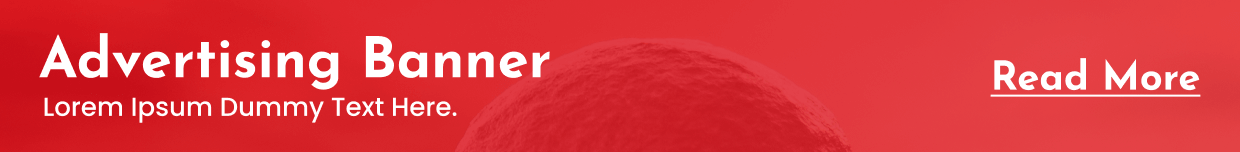BAmbos os lados da guerra entre Israel e o Hamas enfrentam agora um novo conjunto de escolhas fatídicas. As decisões que tomarem nas próximas duas semanas não são apenas uma questão de vida ou morte para muitos milhares de palestinianos e para os restantes 134 reféns detidos pelo Hamas. Eles também têm o poder de moldar acontecimentos durante anos, se não décadas futuras. O início do Ramadã, em 10 de março, é o
Digo “ambos os lados”, embora isso possa ser facilmente esquecido. O bombardeamento israelita de Gaza tem sido tão implacável, a destruição tão intensa e o número de mortos tão elevado, que muitos já há muito deixaram de encarar a situação como uma guerra. Foi impressionante a frequência com que, no debate de quarta-feira na Câmara dos Comuns sobre Gaza, antes de cair no caos, o secretário dos Negócios Estrangeiros paralelo, David Lammy, teve de
Se o lembrete foi necessário, é porque o Hamas se tornou um ator invisível neste conflito. Isso é literalmente verdade no campo de batalha. “Eles não se mostram. Eles evitam contato. Você vê os alvos por alguns milissegundos”, disse um reservista israelense que lutou em Gaza ao meu colega Jason Burke, descrevendo como os combatentes do Hamas emergiam apenas fugazmente de sua vasta rede de túneis subterrâneos para abrir fogo.
O mesmo se aplica à cobertura da guerra. Israel diz que matou alguns
E porque deixamos de vê-los, deixamos de vê-los como tendo agência – como se tivessem sido meramente passivos nos acontecimentos horríveis dos últimos meses, acontecimentos que foram desencadeados pelos ataques do Hamas ao sul de Israel e pelo massacre de 1.200 pessoas. Passivo não é, aliás, o número de pessoas em Gaza que vêm ver a organização: houve relatos de
Agora baseado nos EUA, vale a pena citar extensamente a condenação de Alkhatib às exigências do Hamas antes de concordarem com um cessar-fogo. Hamas,
O Hamas tem agência mesmo agora. Se estivesse verdadeiramente horrorizado com a morte e o sofrimento diários dos palestinianos em Gaza, tão horrorizado como os milhões de pessoas em todo o mundo que fazem campanha por um cessar-fogo, e se quisesse simplesmente que a matança acabasse, poderia libertar os reféns que mantém, vivos e mortos. , concordam que o exílio de Yahya Sinwar, o mentor do 7 de Outubro – e a pressão sobre Benjamin Netanyahu, dentro e fora de Israel, para acabar com a guerra seria tal que esta estaria praticamente terminada. A matança iria parar. No entanto, precisamente ninguém pensa que o Hamas alguma vez fará isso. Poucos sequer pensam em exigi-lo.
Em vez disso, o foco, naturalmente, está no partido mais forte, Israel, que também enfrenta uma decisão crítica. Há
Israel poderia prosseguir com a sua ameaça de lançar uma operação terrestre em Rafah, a cidade fronteiriça do sul onde vive a maior parte da população de Gaza –
Enquanto isso, outra opção acena. Guiada pelo princípio de que cada crise é também uma oportunidade, bem como pelo facto de o conhecimento que leva à paz no Médio Oriente ter muitas vezes seguido a guerra, a Casa Branca está a promover o que não chama propriamente de
Juntos, os três formariam uma aliança forte contra o Irão e os seus representantes: o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iémen. Israel conseguiria o que tem procurado durante décadas: aceitação formal em todo o mundo árabe e parceiros oficiais na sua batalha central contra o Irão. O preço? Israel teria de concordar com a criação de um Estado palestiniano, cuja prossecução é fundamental para a iniciativa Biden.
Agora, é claro que existem centenas de razões para assumir que este novo plano seguirá o mesmo caminho de todos os anteriores – e terminará em fracasso. Depois de contar todas essas razões, eu poderia citar mais cem. Mas a questão ainda permanece. Israel poderia marchar para Rafah, causar uma calamidade humanitária e correr o risco de ser considerado um Estado pária, mesmo por antigos amigos. Ou poderia dizer um sim provisório ao presidente dos EUA, reconhecendo uma verdade que é clara para o mundo inteiro: que eventualmente terá de chegar a um acordo com os palestinianos, que há dois povos que reivindicam a mesma pequena terra e que o o único resultado que pode dar a ambos o que necessitam é um estado para cada um.
Israel deveria aproveitar esta oportunidade com ambas as mãos. Exceto que é liderado por um homem que dedicou grande parte da sua vida a garantir que um Estado palestiniano nunca possa acontecer: Benjamin Netanyahu. E assim ele impede um acordo que poderia não só pôr fim à guerra em Gaza, mas também garantir finalmente o futuro de Israel. Como disse Nasser Al-Kidwa, político palestino e sobrinho de Yasser Arafat
Há uma pequena chance de que algo melhor possa surgir deste show de horrores de guerra. Para compreendê-lo, os palestinianos precisam de estar livres do Hamas e os israelitas livres de Netanyahu. Cada dia que esses homens permanecem no poder é uma maldição para ambos os povos – que certamente já foram amaldiçoados há tempo suficiente.
-
Você tem uma opinião sobre as questões levantadas neste artigo? Se desejar enviar uma resposta de até 300 palavras por e-mail para ser considerada para publicação em nossa seção de cartas, clique aqui.