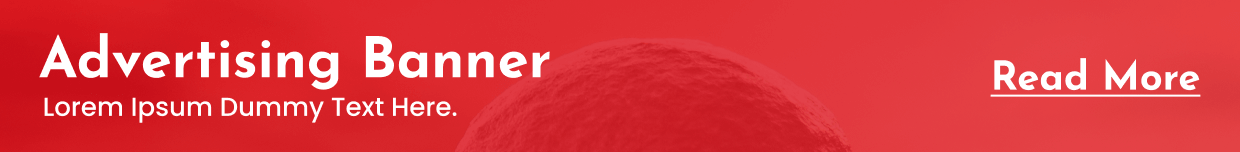Noy Katsman sabia que o elogio ao seu irmão assassinado iria irritar alguns que vieram lamentar, mas não queria que a violência da morte de Hayim Katsman eclipsasse a sua vida como activista pela paz.
A dor e a perda pelo massacre de Hayim foram ampliadas ao ver Israel lançar uma guerra em seu nome, disse Noy, que não é binário. Assim, no funeral, apoiando-se na tradição judaica de respeito pelos enlutados, Noy pediu que tudo parasse.
“Não usem a nossa morte e a nossa dor para causar a morte e a dor de outras pessoas e de outras famílias”, disse Noy à multidão de centenas de pessoas, enquanto o governo bombardeava Gaza e se preparava para uma invasão terrestre massiva. “Não tenho dúvidas de que mesmo diante do povo do Hamas que o assassinou… ele ainda se manifestaria contra a matança e a violência de pessoas inocentes.”
Argumentar contra a retaliação em Gaza, enquanto Israel cambaleia com a escala e a brutalidade dos massacres perpetrados pelo Hamas em 7 de Outubro, é impopular. A certa altura do elogio, os enlutados resmungaram de raiva e desaprovação.
Mas depois os amigos de Hayim vieram agradecer a Noy. “Um deles me disse: ‘É exatamente o que seu irmão gostaria que você dissesse’”.
Hayim e Noy fazem parte da comunidade relativamente pequena de Israel de esquerdistas, activistas pela paz e defensores dos direitos humanos, pessoas que acreditam amplamente que o seu país não pode lutar para chegar à paz.
Foram particularmente atingidos, pessoal e politicamente, pelos massacres de 7 de Outubro, quando os militantes do Hamas atacaram locais que foram historicamente centros do sionismo de esquerda, onde muitos têm amigos e familiares.

“Nas comunidades afetadas no sul, os kibutzim, onde pessoas foram feridas, sequestradas e massacradas pelo Hamas, muitos deles lutaram pela paz, muitos deles sonhavam com um futuro diferente”, disse Avner Gvaryahu, o diretor executivo de
“Há membros de todas as principais organizações de direitos humanos que foram raptados, mortos, feridos ou traumatizados.”
Hayim foi um dos ex-soldados das FDI que testemunhou pelo Breaking the Silence, que foi proibido nas escolas israelenses, foi difamado por muitos no governo e enfrentou ataques incendiários por seu trabalho.
Acadêmico que pesquisou a direita religiosa em Israel, ele passou algum tempo com comunidades agrícolas palestinas nas colinas ocupadas do sul de Hebron, oferecendo através da sua presença alguma proteção contra os militares, a polícia e os colonos israelenses na área.
Outras vítimas dos kibutzim agrupados perto de Gaza incluem Shlomi e Shachar Matias, um casal que ajudou a fundar uma escola bilingue que ensinava crianças em hebraico e árabe, sob o lema: Educação Judaico-Árabe para a Igualdade.
Vivian Silver, membro central do Women Wage Peace, foi feita refém em Gaza. Ela também ajudou a organizar viagens para palestinos em Gaza, que receberam rara permissão para deixar a faixa para tratamento médico. Acredita-se que vários outros desse grupo estejam com ela, incluindo Oded e Yochka Lifshitz, que estão na casa dos 80 anos.
No clima de raiva e de apoio generalizado à guerra, os familiares activistas dos mortos e desaparecidos estão a tentar navegar tanto pela dor como pela defesa pública, como fez Noy.
“Eu estava lá”, escreveu Ziv Stahl, diretora executiva do grupo de direitos humanos Yesh Din, num editorial para o Haaretz, sobre as horas que passou escondida num quarto seguro com um familiar ferido. “Não preciso de vingança, nada vai voltar
Para aqueles cujos familiares são mantidos reféns em Gaza, é uma agonia adicional assistir aos ataques aéreos israelitas na faixa. Neda Heiman, que também trabalha com Women Wage Peace, perdeu contato com sua mãe de 84 anos, Ditza Heiman, na manhã daquele sábado.
Mais tarde, ela viu-a num vídeo, sendo forçada a subir num camião por homens armados do Hamas e conduzida em direcção a Gaza. “Ainda penso que apenas uma solução política pode resolver os problemas”, diz ela, “Bombardear Gaza não pode ser uma solução permanente… Nós estivemos lá, fizemos isso.
Não é uma mensagem que receba muito tempo de antena em Israel. Noy deu mais de 20 entrevistas sobre esse discurso, sobre o trabalho de Hayim e seu próprio ativismo. Nem um único pedido veio da mídia israelense.
Ainda assim, Noy sentiu-se reconfortado com o apoio online tanto de israelitas como de pessoas que afirmaram estar em Gaza. “Eu só queria dizer o quanto sinto muito pelo que aconteceu com seu irmão e quero agradecer muito por não nos querer mortos como todo mundo”, escreveu um deles.
Um país que considerava os seus serviços militares e de inteligência entre os mais temidos e eficazes do mundo foi devastado pelos seus fracassos catastróficos. Os activistas dizem que as falhas de segurança de 7 de Outubro estiveram enraizadas numa falha muito mais profunda da visão política – e se isso não for resolvido, Israel nunca estará seguro.
“Você vê essa dor sendo usada para ir em uma direção pior, que não nos promete nada além de mais dor, mais sangue, mais perdas”, disse Alon-Lee Green, membro do conselho do Standing Together, um movimento popular de cidadãos judeus e palestinos de Israel.
“Como Estado, temos o direito de defender os nossos cidadãos de serem massacrados, mas temos de responder à questão fundamental: e depois? Conquistamos a Faixa de Gaza e depois?”
Argumentos históricos?
A esquerda tem sido uma força decrescente na política de Israel há décadas. Nas eleições de 1992, dois partidos de esquerda, o Trabalhista e o Meretz, obtiveram quase metade dos votos entre si; nas últimas pesquisas, o Meretz não chegou ao parlamento e o Partido Trabalhista ficou com apenas um dígito dos votos.
Ao longo de 20 anos, a direita de Israel desfez lentamente um consenso amplo, embora relutante, de que o caminho para a segurança a longo prazo era uma resolução negociada com os palestinianos, para formar dois Estados vizinhos.
Em 2003, enquanto se desenrolava a segunda intifada, até o então primeiro-ministro, Ariel Sharon, um falcão que apoiou os colonatos em Gaza e na Cisjordânia, argumentou que Israel
Netanyahu consolidou o seu poder, em parte, argumentando que Israel poderia conter Gaza e gerir a ocupação da Cisjordânia. O apoio a uma solução de dois Estados desmoronou-se, à medida que Israel construiu pontes para estados regionais que outrora se recusaram a reconhecer a sua existência. Nas recentes sondagens pré-eleitorais, a segurança ocupava um lugar baixo na lista de preocupações dos eleitores –
Muitos dos sobreviventes do massacre e das pessoas enlutadas disseram que se sentiram abandonados por um governo que sabia ter poucos eleitores nas áreas próximas de Gaza. Sob Netanyahu, os fundos militares e a atenção foram transferidos para a Cisjordânia e para os postos avançados de colonos que eram uma prioridade para os seus eleitores e aliados.
Os seus avisos não foram ouvidos, mas agora a sua raiva e frustração podem ser partilhadas de forma mais ampla. Uma sondagem recente encomendada pelo Jerusalem Post concluiu que cerca de quatro em cada cinco israelitas culpam Netanyahu pelos massacres, e a maioria pensa que ele deveria demitir-se quando a guerra terminar.
Menos claro é se estão a questionar apenas o homem ou também o modelo de segurança que ele lhes ofereceu.
“Há mais de uma década que contamos a nós mesmos contos de fadas, que podemos ignorar o fato de que estamos controlando milhões de pessoas pela força”, disse Gvaryahu, da
“Esta concepção de que podemos ignorar uma ocupação, ignorar que há milhões em Gaza sem direitos, milhões na Cisjordânia sem direitos”, acrescentou. “Este pode ser um momento que irá cimentar isso, ou este pode ser um momento em que poderemos ajudar a mudar a maré. Esse é o maior desafio que temos pela frente.”