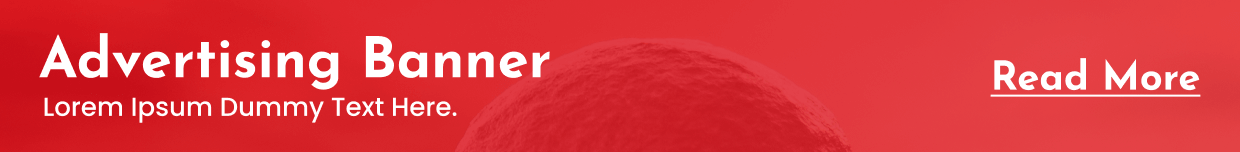Em 2019, Aviv Kochavi, então chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), fez um discurso otimista. A IDF, proclamou ele, “tem tudo a ver com a vitória”.
Avaliando que as principais ameaças à segurança de Israel provinham de actores não estatais como o Hamas e o Hezbollah, Kochavi daria início, no ano seguinte, a uma nova doutrina operacional intitulada “vitória decisiva”.
Previa “operações rápidas e ofensivas baseadas na utilização de unidades mais pequenas apoiadas por um poder de fogo maciço” contra o que tinha sido reformulado como “exércitos terroristas baseados em foguetes”, abrangendo a possibilidade de Israel ter de lutar em duas frentes ao mesmo tempo.
Nove meses após o início do conflito em Gaza que se seguiu ao ataque surpresa do Hamas no sul de Israel, em 7 de Outubro, o Estado é lutando em duas frentes simultaneamente. Mas a promessa de uma “vitória rápida” ou “vitória decisiva” – apesar da utilização de um poder de fogo maciço com consequências devastadoras para os civis em Gaza – revelou-se ilusória.
E no meio da pressão internacional liderada pelos EUA para negociações de cessar-fogo significativas e um acordo de troca de reféns por prisioneiros, apoiado pela aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, a dinâmica da guerra cada vez mais prolongada impôs a sua própria realidade.
A alegada existência de cartas enviadas por Yahya Sinwar, o líder do Hamas em Gaza, descrevendo as baixas civis palestinianas como “um sacrifício necessário”, sugere que o grupo vê o progresso do conflito sob uma luz fundamentalmente diferente da dos responsáveis israelitas.
Embora muito tenha sido dito sobre as alegadas reivindicações de Sinwar, mais significativo é o enquadramento: o Hamas vê a sua batalha em termos de movimentos de libertação históricos, como a luta argelina pela independência da França, que sofreu reveses civis significativos às mãos das forças francesas.
O fracasso contínuo de negociações de cessar-fogo significativas expôs as opiniões diametralmente opostas de Israel e do Hamas – não apenas sobre o que o conflito representa hoje, mas sobre a trajectória a longo prazo.
A liderança política e militar de Israel acreditou durante anos que era possível gerir os seus conflitos, tanto com os palestinianos como com o Hezbollah no norte, ignorando ao mesmo tempo os vectores políticos que impulsionam a violência, nomeadamente a exigência palestiniana de um Estado e de autodeterminação.
Mas o Hamas e o Hezbollah há muito que encaram um horizonte mais distante. Para o Hamas em particular, a última guerra não é vista como um de uma série de conflitos episódicos, mas como um envolvimento numa luta mais longa que acredita que acabará por vencer.
Se existe um ponto em comum nas avaliações do campo de batalha de Israel e do Hamas, é a crença sombria de ambos os lados de que não há outra opção senão a continuação dos combates.
Por sua vez, Sinwar, numa das suas missivas relatadas, falou em termos dignos de Macbeth. “Temos que avançar no mesmo caminho que iniciamos”, disse o Jornal de Wall Street relatou ele escrevendo.
“Ou que seja uma nova Karbala”, acrescentou, numa referência à batalha do século VII no Iraque, onde o neto do profeta Maomé foi morto com os seus seguidores.
De um modo mais geral, o Hamas acredita que obteve os seus ganhos mais significativos fora dos combates – na frente diplomática.
A condução de uma guerra por parte de Israel com “poder de fogo maciço” e o subsequente sofrimento civil catastrófico fizeram com que o país enfrentasse um crescente isolamento diplomático e acusações de uma série de crimes de guerra, incluindo genocídio e o uso da fome como arma de guerra – acusações que Israel nega – à medida que mais países reconheceram a condição de Estado palestiniano.
após a promoção do boletim informativo
Se isso explica a posição maximalista do Hamas nas negociações de cessar-fogo – que apenas aceitará o fim dos combates e a retirada de Israel de Gaza – a posição de Israel, apesar dos desejos de Washington, é igualmente inflexível.
A saída de Benny Gantz e do seu partido da coligação de emergência de Benjamin Netanyahu não só tornou o primeiro-ministro mais dependente de partidos de extrema-direita que se opõem a um cessar-fogo, como não conseguiu desencadear uma crise política, vendo em vez disso o apoio a Netanyahu aumentar no pesquisas.
Não se trata apenas da questão da guerra em Gaza, onde o conflito impõe a sua própria dinâmica perigosa. No conflito paralelo com o Hezbollah, lançado em apoio a Gaza em 8 de Outubro, foram expostas as mesmas suposições israelitas sobre o conflito gerido e a disponibilidade de uma vitória rápida e fácil.
Nove meses de intercâmbios diários e gradualmente intensificados deslocaram dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira libanesa. Um cenário impensável em Setembro passado – que Israel estaria envolvido numa guerra fronteiriça prolongada e perigosamente inconclusiva com o Hezbollah – tornou-se uma questão política no meio de exigências crescentes para uma ofensiva amplamente alargada contra o Hezbollah.
As conversações de desescalada, lideradas pelo enviado especial dos EUA, Amos Hochstein, não conseguiram tirar um coelho da cartola, uma vez que o Hezbollah insistiu que a sua própria campanha depende do fim dos combates em Gaza.
Embora o Hezbollah tenha insistido que não procura uma guerra total, mas que está pronto para ela se acontecer, o que permanece obscuro é como termina o conflito e em que termos.
Tal como o Hamas, o Hezbollah considera-se, se não ganha, pelo menos não perde. A morte de cerca de 400 combatentes do Hezbollah não preocupou a liderança e resta saber se poderá ser persuadida através de negociações a retirar-se da fronteira.
A guerra em ambas as frentes – independentemente do horror – parece destinada a continuar por enquanto.