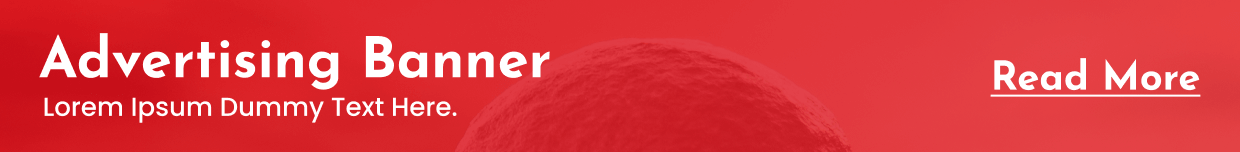Os protestos estudantis nos campi universitários dos EUA sobre a guerra de Israel em Gaza mostraram poucos sinais de diminuir durante o fim de semana, com os manifestantes prometendo continuar até que as suas exigências para que os órgãos educacionais dos EUA se libertem das empresas que lucram com o conflito sejam atendidas.
Naquele que é talvez o movimento estudantil mais significativo desde os protestos anti-Vietname nos campus no final da década de 1960, o conflito entre estudantes pró-palestinos e administradores universitários revelou todo um subconjunto de conflitos.
O drone de helicópteros sobre o Washington Square Park, em Nova York, previu na segunda-feira a chegada do grupo de resposta estratégica (SRG), a divisão especializada em contraterrorismo e protestos políticos do departamento de polícia de Nova York, que começou a prender mais de 120 estudantes da Universidade de Nova York e membros do corpo docente que circulavam pela calçada do campus ao som de: “Israel bombardeia, NYU paga, quantas crianças você matou hoje?”
Depois de vários anos de marchas semi-sazonais de estudantes pela cidade para expressar posições sobre temas que vão da justiça racial ao aquecimento global e ao controlo de armas, os protestos sobre a guerra Israel-Gaza são a mais recente dor de cabeça para as autoridades. O prefeito de Nova York, Eric Adams, culpou os “agitadores profissionais” pelos protestos na NYU; a universidade cercou a praça onde os estudantes costumam se reunir.
Vários dias antes, e a mais de 100 quarteirões da parte alta da cidade, funcionários da universidade de Columbia haviam alertado os estudantes membros do acampamento Solidariedade de Gaza, no quadrilátero da faculdade da Ivy League, que embora tivessem o direito de protestar, não estavam autorizados a “perturbar a vida no campus ou assediar e intimidar colegas estudantes”.
Mas então, de forma contenciosa, o SRG foi chamado. Os agentes prenderam – e mais tarde libertaram – mais de 100 estudantes, inflamando um debate político mais amplo em torno do reitor da universidade, Minouche Shafik, no cargo há menos de um ano. Os estudantes exigiram a demissão de Shafik porque ela chamou a polícia ao campus – ações que alimentaram o ânimo do protesto estudantil a nível nacional – enquanto as acusações de antissemitismo aumentaram, tanto contra os manifestantes como contra Shafik por, dizem os seus críticos, não proteger suficientemente os estudantes judeus.
Joe Biden juntou-se
O presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, que acabara de aprovar um pacote de ajuda de 26 mil milhões de dólares para Israel, veio à Colômbia na quarta-feira para exigir que o acampamento de solidariedade fosse desmantelado. “Saia do nosso campus!” um aluno gritou. “Aproveite sua liberdade de expressão”, Johnson respondeu.
Em Columbia, alguns organizadores atribuíram a retórica anti-semita a pessoas de fora não afiliadas à universidade que pegaram carona nos manifestantes. “Estamos frustrados com as distrações da mídia focadas em indivíduos inflamatórios que não nos representam”,
Com o fim do semestre de Columbia na próxima semana, os responsáveis universitários dos EUA podem esperar que os protestos acabem. Mas os estudantes disseram que planeiam continuar até que as suas exigências sejam satisfeitas para que a escola se desfaça de empresas que dizem lucrar com a guerra de Israel, incluindo Microsoft, Google e Amazon, e encerre a sua parceria com a Universidade de Tel Aviv.
Na sexta-feira, após o prazo para a evacuação do campo ter passado e com pouco progresso nas negociações entre os manifestantes e o corpo docente, a Columbia abriu seu campus à imprensa.
Os manifestantes disseram que a universidade deu garantias vagas de que a polícia não seria chamada para removê-los.
Mas com as cerimónias de formatura em homenagem aos estudantes formandos, previstas para começarem no dia 15 de Maio, no mesmo relvado agora transformado num protesto, eles disseram que manteriam as suas exigências para que a universidade divulgasse e desinvestisse em investimentos que “promovem o genocídio”, parasse novos investimentos e conceder anistia aos estudantes presos que foram expulsos de seus dormitórios e tiveram acesso negado ao refeitório.
Majd, um estudante envolvido no acampamento na semana passada, disse que ficou tenso quando houve uma ameaça de remoção forçada ao longo dos prazos. “Isso tem sido um pouco cansativo, mas estamos bem agora que sabemos que a escola confirmou que não há mais ameaça de a polícia de Nova York entrar no campus.”
À medida que os protestos na NYU e na Columbia diminuíam, os campi universitários em todos os EUA compensavam a situação: na Universidade do Texas, em Austin, tropas estaduais com equipamento de choque levaram 34 manifestantes sob custódia; na Universidade do Sul da Califórnia, os oficiais lutaram para desmantelar um acampamento de protesto.
O acampamento na Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), que se expandiu ao longo da semana, foi palco de um conflito no domingo, à medida que os contra-manifestantes se tornavam cada vez mais vocais e visíveis no campus.
O tom tornou-se feio por volta do meio-dia, quando membros de dois grupos de manifestantes entraram em confronto – empurrando-se uns aos outros, gritando e, em alguns casos, trocando socos.
Após o confronto, o departamento de polícia do campus da UCLA disse que enviou mais policiais ao local e que a polícia municipal não estava envolvida. Um representante da polícia do campus disse que nenhuma prisão foi feita.
Em Yale, a polícia universitária prendeu 45 manifestantes na segunda-feira. Depois que os manifestantes rejeitaram as ordens de saída, a polícia os acusou de invasão criminosa. Isso aconteceu um dia depois de 14 estudantes terem encerrado uma greve de fome de oito dias destinada a pressionar a universidade a desinvestir. Na Emory University, em Atlanta, a polícia foi filmada prendendo violentamente estudantes e professores.
Colunista do New York Times
Grupos anti-guerra estão a planear grandes protestos na convenção do partido neste Verão – também em Chicago. Hatem Abudayyeh, chefe da Rede da Comunidade Palestina dos EUA, disse que esta será a convenção “mais importante” desde o tumulto do final dos anos 60.
Jim Sleeper, escritor e ex-professor em Yale, alertou que os protestos podem ser distorcidos por adultos que buscam ganhar pontos políticos usando acusações de anti-semitismo como arma.
“Temos este fenómeno de pessoas mais velhas que estão a começar isto, a jogar a carta do anti-semitismo”, disse Sleeper, “e as mesmas pessoas que em 2015 se queixavam de faculdades liberais que transformavam estudantes em bebés chorões estão agora a fazer a mesma coisa, mas em relação ao anti-semitismo. ”
Os estudantes, acrescentou, podem estar “valorizando romanticamente a Palestina, mas não são antissemitas cruéis”.
Uma faculdade de graduação residente é uma sociedade civil em rodinhas, destacou ele, dizendo: “As crianças estão fora de casa pela primeira vez, sentindo-se adultas, testando as coisas, combinando idealismo com a política de postura moral, e fazem isso na segurança desses quadriláteros. E há excessos, trocas de palavras, e há sempre um elemento de dramatização.”
Mas, acrescentou Sleeper, “se tivermos líderes que inculcam as coisas certas, então as pessoas concordarão”.
Os precedentes históricos estão se tornando mais evidentes. Em 1969, Harvard convocou a polícia para afastar os manifestantes anti-guerra, como a Columbia havia feito um ano antes. Ambos os eventos produziram fotos de estudantes machucados e ensanguentados. Num incidente de 1970 que ficou gravado na memória nacional dos EUA, a guarda nacional da Universidade Estatal de Kent, no Ohio, abriu fogo contra estudantes que protestavam contra a guerra, matando quatro.
Em Yale, por outro lado, o Presidente Kingman Brewster, mais tarde embaixador dos EUA no Reino Unido, apoiou os estudantes, recusou o acesso da polícia ao campus e abriu-o aos manifestantes.
Mais tarde, Brewster inflamou a administração Nixon ao dizer, antes do julgamento de três panteras negras que explodiram três bombas no rinque de hóquei de Yale, que estava “cético quanto à capacidade dos revolucionários negros de conseguir um julgamento justo em qualquer lugar dos Estados Unidos”. Henry Kissinger teria pensado que o assassinato de Brewster beneficiaria o país.
Sleeper disse que a abordagem de Brewster funcionou: “Talvez estejamos descobrindo que alguns reitores de universidades agora não estão em contato suficientemente próximo com seus alunos e poderiam ser um pouco mais astutos e sofisticados na construção de confiança e em fazer algo afirmativo”.
Do lado de fora dos portões principais de Columbia, na quinta-feira, a segurança do campus e a polícia recusavam a entrada de não estudantes e professores.
Uma visitante, Saba Gul, 39 anos, que frequentou o MIT no início dos anos 2000, disse que já foi “completamente aceitável” que as universidades estivessem ligadas às indústrias de tecnologia de defesa, mas que esta geração dizia não: “Os jovens estudantes estão a mostrar-nos o poder das pessoas. Se você está do lado contra um movimento estudantil nacional, você está do lado errado.”